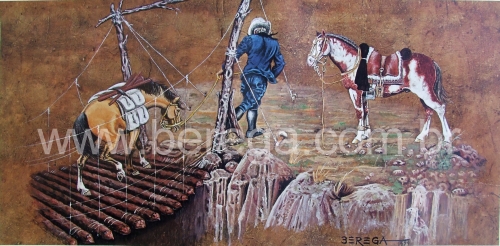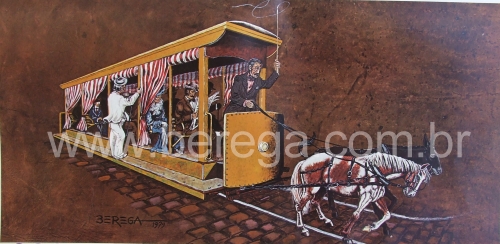1980
Texto do cabeçalho do calendário:
O CAVALO E O TRANSPORTE
Apesar das teses do cavalo autóctone na
América do Sul e mesmo do cavalo indígena brasileiro, usado pelos índios guaicurús, a
história certa é que ele veio da Europa com os primeiros colonizadores.
Em 1534 e 1535, Martim Afonso introduziu-os em São Vicente. E Tomé de Souza importou-os
para a Bahia. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi buscá-los no Prata. Começou a
utilizá-lo como meio de transporte e de tração, nas lidas diárias. E acabou como um
elemento profundamente ligado ao gaúcho, ao seu trabalho e ao seu lazer.
No arar a terra para o plantio. No levar mensagens a todos os cantos desta terra,
facilitando a comunicação. Nas primeiras conduções da Campanha do Rio Grande varando
as distâncias desertas da Província. No rolar da antiga Pipa D´Água que abastecia as
estâncias. No divertir do homem do campo, nos rodeios, nas carreiras de cancha reta e
tantos outros esportes. Em toda nossa história, o cavalo se manteve como uma extensão de
nós mesmos.
Este é o tema do Calendário para 1980 da Fertisul e Adubos Ipiranga que agora passamos
às suas mãos. São seis emocionantes cenas, criadas peo talento do artista plástico
Luiz Alberto Beheregaray e do historiador e pesquisador Raul Pont.
Com este Calendário, mais do que registrar 1980 - dia a dia, semana a semana, mês a mês
- pretendemos não deixar que o tempo apague nossas melhores e mais autênticas
tradições.
CURRICULUM
LUIZ ALBERTO PONT BEHEREGARAY (Berega):
Natural de Uruguaiana, RS, reside em Porto Alegre desde 1958; Autodidata, sempre teve como
temática a vida rural de nosso Estado, pintando particularmente o cavalo; Executa suas
obras numa técnica própria e absolutamente inédita, usando tintas industriais sobre
couro; Tem retratado cavalos nacionais e importados de diversas raças para criadores
brasileiros e do Exterior; Retratos de cavalos de sua autoria encontram-se em coleções
particulares no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, EUA e Inglaterra; Autor do Prêmio
Especial ao Melhor Animal da Exposição de Rústicos A. Angus, conferido anualmente;
Autor de "Garanhões Árabes - Estudo de Cabeças"; Autor de ilustrações e
textos.
RAUL PONT:
Natural de Uruguaiana, RS, onde reside: brasileiro, casado; Historiador, escritor e
pesquisador; Professor de História, por vários anos, em diversos currículos; Sócio
correspondente da Academia Rio-grandense de Letras; Sócio correspondente do Círculo de
Pesquisa Literária do RS (Cipel - Porto Alegre); Presidente do IHG de Uruguaiana; Membro
ativo de Academias Literárias Fronteiristas, de Uruguaiana; Autor de "Franceses na
Fronteira Oeste do RS", publicado sob os auspícios do Consulado Geral da França, em
edição comemorativa ao Biênio da Colonização; Medalha de Ouro outorgada pelo Governo
Municipal de Uruguaiana, conforme Artigo 2º da Lei 818/65 - Grande Condecoração em
relevantes serviços prestados no campo da História; Autor de "Homens ilustres de
Uruguaiana", com mais de cem biografias, publicadas pelo Jornal Ilustrado de
Uruguaiana, em 1978/1979; Membro correspondente do Colégio Heráldico de Buenos Aires -
28/06/68; Delegado do Instituto Histórico da Loja Simbólica da Província de São Pedro,
RS; Membro do Conselho Municipal de Cultura de Uruguaiana, RS.
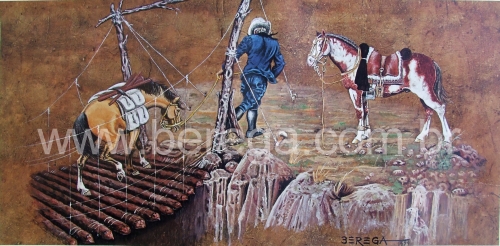 |
Título: "Gato" e "Mancha"
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.
Ano / meses: 1980 / janeiro-fevereiro (publicado, no
calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de
Berega.
Dois cavalos Crioulos da
Estância "El Cardal", de propriedade do renomado prof. E. Solanet da República
Argentina, participaram da mais longa cavalgada de que se tem notícia. O raide
se iniciou em Buenos Aires, em 1925, com um dos cavalos montados pelo prof. Aimé
Tschiffely, cobrindo um percurso de de 21.500 quilômetros, chegando em New York três
anos depois, vencendo uma média de oito léguas por dia.
Superada essa distância em 504 etapas, conquistaram os
célebres cavalos Crioulos argentinos um recorde mundial de distâncias e altitudes. Dos
pampas argentinos passaram a La Quiaca, La Paz, ao Cuzco, Lima, Trujillo, Quito, Medellin
e Cartagena. Subiram a 5.900 metros sobre o nível do mar, no Passo de El Condor, entre
Potosi e Chaliapata (Bolívia).
Foram difíceis e escabrosos os caminhos íngremes da Cordilheira,
onde tiveram que suportar 18 graus de temperatura abaixo de zero. Enfrentando os mais
variados climas, por entre as geleiras dos Andes, em zonas pantanosas, por serras e
desertos de areia, com a mais precária alimentação; evidenciaram duas grandes
qualidades do cavalo Crioulo: resistência e rusticidade.
Beberam água do rio da Prata, depois em Rosário, em Mendoza;
recruzaram a cordilheira dos Andes e vão às margens do Lago Tititcaca; descansaram à
sombra das gigantescas colunas dos Templos de Tiahuanaco, no Perú, e desceram às
pastagens ralas do litoral do Pacífico.
Sofreram a inclemência de 50 graus à sombra, de Huarmey até Casma, em um deserto
escaldante, de areias soltas e num percurso de mais de trinta léguas, em uma única
etapa, sem forragens e sem água. Em 1928, alcançaram New York, depois de haverem
superado a América Central, o México e os Estados do Sul e do Norte Americano.
Os cavalos levaram nos cascos o pó de 20 nações, atravessadas de
ponta à ponta, na mais longa e rude trajetória, superior a de qualquer outro
conquistador.
Os célebres equinos, imortalizados pelo singular exemplo, tinham 18 e 19 anos e depois
que retornaram às suas querências viveram ainda mais oito ou nove anos.
Façanha inimitada, empreendida pelo prof. Tschiffely e seus
fabulosos cavalos, que assombrou o mundo com tão rara proeza de equitação.
Condensando as primitivas origens de sangue árabe e berberisco, o cavalo Crioulo se
impôs por suas características raciais. Quatro séculos de vida selvagem, influindo em
sua genética, modificaram seu organismo, adaptando-o às exigências do meio e
despertando-lhe energias que o fizeram campeão em resistência.
Os famosos Crioulos, jamais imitados em sua fachada, estão hoje como peças preciosas no
Museu de Lujan, em Buenos Aires, reconstituídos por um taxidermista peruano.
|
 |
Título: O Arado
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x
53cm.
Ano / meses: 1980 / março-abril (publicado, no calendário)
- pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e
Ilustrações de Berega.
O arado é o símbolo da evolução social, marcando uma etapa da civilização que vem
transformar o Rio Grande do Sul, voltado para a agricultura.
As correntes imigratórias trouxeram precisosa contribuição com as etnias mais diversas
que vieram cultivar as terras virgens do Novo Mundo. Em todas essas culturas,
esteve presente o arado. Na fase inicial da lavoura, com a catequese jesuíticaforam
utilizados no amanho da terra, instrumentos feitos totalmente em madeira, puxados por
escravos. Já no período finisecular aparecem as charruas (1).
Os colonos, pacientemente, transformaram a rebeldia xucra dos touros selvagens, em bois
tambeiros (2), afeiçoando-os às fainas das glebas ainda improdutivas.
Familiarizados ao uso europeu, mulas e cavalos foram sendo adestrados aos trabalhos
agrícolas. E aí se evidenciou, positiviamente, a resistência e a força dos cavalos
como dóceis puxadores.
Transcorreu no ano de 1975 a comemoração do Sesquicentenário imigratório, evidenciando
o reconhecimento ao seu pioneirismo, iniciado em 1825, com a chegada dos primeiros
imigrantes alemães, destinados à primitiva Feitoria Velha.
Essas levas de desbravadores trouxeram o instrumento agrário, destinado a abrir as terras
que os séculos tornaram fecundas e dadivosas. preparando-as a receberem as sementes.
Meio século mais tarde, em setembro de 1875, colonos italianos acampavam nos Campos dos
Bugres (3) e no mesmo ano se iniciam as colonizações de Conde D´Eu e Dona Isabel (4).
Esses núcleos coloniais foram os polos irradiadores de uma nova orientação agrária
modificando a antiga monocultura, imposta pela abundante riqueza das vacarias selvagens
que gauderiavam nas imensas savanas americanas.
Em regime de pequenas propriedades rurais, praticando uma agricultura de subsistência,
uniam-se os esforços de toda a família, na luta às adversas condições dos primeiros
tempos. E daí surgiram as vides, o trigo, o milho, os cereais e logo suas necessárias
industrializações, fazendo da vitivinicultura um dos principais esteios da economia
rio-grandense. Hoje representa ela oitenta por cento da produção vinícola de todo o
Brasil.
Consagrada nos versos de Cassiano Ricardo e eternizada no bronze de um Monumento,
plasmou-se a figura de "Ó louro imigrante/que trazes a enxada ao ombro/Sobe comigo a
este pícaro/E olha a manhã brasileira/Que nasce, por dentro da serra/Como um punhado de
cores jogado na terra! ... e a semente que aqui plantares/Será de ouro/No chão de
esmeralda!
(1) Charruas - Instrumento aratório com jogo dianteiro e uma só aiveca.
(2) Tambeiros - Boi manso acostumado aos trabalhos da lavoura.
(3) Campo dos Bugres - Hoje a progressista cidade de Caxias do Sul - Pérola das
Colônias.
(4) Conde D´Eu e Dona Isabel - Esses campos de cultivos iniciais se transformaram nos
prósperos municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves.
|
 |
Título: O Chasque
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.
Ano / meses: 1980 / maio-junho (publicado, no calendário) -
pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de
Berega.
O Chasque foi o estafeta das longas distâncias.
O valoroso mensageiro que fazia as primeiras ligações, vencendo léguas e léguas, numa
máscula simbiose homem-cavalo, como único meio de comunicações que se contou à época
do pioneirismo. Como verdadeiro centauro dos Pampas, aos Chasques foi entregue toda a
responsabilidade de antecipar linhas de comunicações entre homens, cidades ou exércitos
em marcha, cabendo-lhe ser o mensageiro de ordens, o correio, o próprio, que no
afã de cumprir o seu dever arriscava sua vida.
Deveria ser um gaúcho de muita coragem e experiente vaqueano da região.
Na formação de nossas fronteiras, até meados do século XIX, no Sudoeste da Província
de São Pedro; na guerra ou na paz, foi o homem que mereceu a mais inteira confiança para
executar uma ordem, fazendo as ligações entre os comandos militares, de cuja segurança
e fidelidade dependia muitas vezes toda a tática de uma guerrilha.
O tempo se origina do quíchua. Chasqui. É um platinismo. Granada e Arona o
gravaram com e. Saubidet o escreveu de ambas as formas, pois significação e
grafia eram as mesmas. Em língua quíchua, dos aborígenes, eram pois um
sinônimo de mensageiro, estafeta, finalmente correio.
O qualitativo se encontra gravado desde os idos de 1680, em documentários referentes à
Colônia do Sacramento, na correspondência de dom José de Garro enviada ao padre
Altamirano, então Superior das Missões Jesuíticas.
Os Chasques, no Império Inca, andavam à pé, por lhes faltar o cavalo ou o muar,
inexistentes na América, antes de Colombo. Eram dispostos em cadeia, ao longo da estrada
a percorrer, num revezamento de estafetas, fazendo uma mensagem percorrer centenas de
quilômetros em um dia. "Graças aos Chasques, havia peixe fresco do Pacífico, nas
mesas de Cusco, cerca de 24 horas depois de ser pescado nas águas do grande oceano,
afastado por mais de 600km da Capital."
Na Revolução dos Farrapos (1835/45), na Guerra do Paraguai (1865/70), nas guerrilhas
entre Pica-paus e Federalistas (1893) e nas lutas entre Chimangos e Maragatos (1923), o
chasque desempenhou missões importantíssimas. Essa colaboração foi de tal forma
indispensável, que marcou uma época histórica e plasmou uma figura de legenda. Não
ficaram só no anonimato, seus nomes glorificaram nossa História e são relembrados como
singular veículo de comunicações, nas épocas em que não se dispunham de instrumentos
especializados, como em nossos dias.
|
 |
Título: A Diligência
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.
Ano / meses: 1980 / julho-agosto (publicado, no calendário)
- pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e
Ilustrações de Berega.
Foi o primeiro coche, rústico, primeiras
conduções da Campanha do Rio Grande. Varava as distâncias desertas da Província,
conduzindo os viajantes destemidos, que a isso se aventuravam em épocas distantes.
Atrelados a duas, três parelhas de cavalos fogosos, coube-lhes abrir os primeiros
caminhos de antanho. As primeiras diligências foram conduzidas pelo gaúcho que montava
um dos cavalos puxadores. Logo surgiram outras trazendo boléias, onde ocondutor - que era
o boleeiro ou o maioral - vinha abrigado sob um toldo. Pra vencer os caminhos, vadear
arroios, livrar-se dos peludos ou nos Passos quase intransponíveis, as
Diligências valiam-se de um outro cavaleiro. Era identificado pelo nome de "Quarta",
pois quarteava a carruagem, presa por um sovéu ou laço trançado que ligava o
cabeçalho dianteiro ao cinchador da montaria. O cavalo cinchador era um animal já afeito
às práticas do quarteador. Deveria ser bom puxador.
Foi a carreta o veículo primitivo, pesado, de tração a bois . Logo veiram as
carretilhas. Evoluíram para Diligências. E estas anteciparam aos coches, carros
americanos e Vitórias.
Marcavam sua itinerância, conduzidas pelo maioral, que era vaqueano e sabia orientar-se
em viagens de três ou quatro dias, em meio ao deserto pampeano.
A tração não era somente feita por cavalos, pois as mulas deram grande contribuição
às Diigências. A fim de suportar as grandes marchas, haviam lugares certos para muda
dos cavalos, de distância em distância. O mudador se fazia em lugares
previstos, determinados pela resistência dos equinos. Dava-se preferência a um Posto, um
Bolicho ou mesmo certas Estâncias, localizadas no trajeto, onde também se faziam os
pousos. Os platinos deram a estes lugares o nome de Postas, cujo regionalismo
não foi tão usado na Província de São Pedro. Nos locais das mudas, as
Diligências já eram esperadas por peões, com novos cavalos puxadores, recém-pegados,
que substituíam aos animais que chegavam cansados.
Sem estradas transitáveis, a Diligência se atirava ao azar das aventuras, conduzida pela
coragem do maioral e a força dos cavalos Crioulos. Os maiorais deveriam conhecer muito
bem os arroios que davam vau ou onde onde se poderia varar a bolapé.
(3)
Essas primeiras viaturas se celebrizavam como veículos coletivos, varando as imensas
distâncias, entre coxilhas e canhadas, já denunciado um elo prenunciador de progresso. O
imperador Dom Pedro II, para chegar à Vila de Uruguaiana, então conquistada pelos
paraguaios, a fim de comandar a Retomada, forçou uma viagem de 16 dias, desde
Cachoeira até as margens do Rio Uruguai.
A verve romanesca do gaúcho batizava as Diligências com variados e expressivos nomes
"A volanta", "A fronteirista", "A Vaquiana", "A
Volantina", etc.
Os modernos veículos automotores conservam uma reminiscência dos velhos costumes,
reproduzindo dísticos e nomes de batismo.
|
 |
Título: A Pipa D´Água
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.
Ano / meses: 1980 / setembro-outubro (publicado, no
calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de
Berega.
Muito embora naturais riquezas hidrográficas
irriguem os campos da zona fisiográfica da Camapnha, grandes extensões se ressentem de
recursos potáveis.
São as coxilhas, obviamente, os locais de preferência para as habitações do gaúcho.
Daí se obtém melhor visão do descampado que se estende até o horizonte.
Dessas posições se dominam os movimentos dos rebanhos e a aproximação de viajantes,
tal como, em épocas de guerra, podia divisar-se ao longe as manobras dos contigentes
armados. É pois estratégico o arranchamento nas coxilhas e nos chapadões. Mas se há
nisso uma vantagem de extensa e panorâmica visão, sofre, de outro lado, a carência de
água próxima. Lá embaixo, o manancial, o olho d´água alimentam arroios em
formação, que buscam os declives naturais. Aí é que se vêm constantemente, em busca
do vital elemento. Entra em função a "Pipa D´Água".
A Pipa é um barril, formado por aduelas de madeira (poucas vezes de
metal), habilmente colocado sobre uma armação presa ao eixo de ferro onde giram duas
rodas, que o transportam. É um tradição imposta pela necessidade, que obriga a velha
"Pipa" a suprir de água a Estância, os arranchamentos e os galpões.
São figuras familiares da Campanha, os elementos que compõe o quadro: O Petiço, o piá
(1), a Pipa e a Cacimba (2). Os cuscos (3) são os inseparáveis companheiros do
guri, que lhe fazem, pela companhia, menos ásperas essas funções cotidianas. Longe dos
olhos do patrão, furtivamente, exercita pontarias aos gurriões (4) com seu
bodoque...
Quando o moinho de vento, a eletrificação e as instalações modernizam a Estância, a
velha e veterana Pipa é encostada a um canto, como um traste inservível.
Inspirando-se na utilização do andejo e tradicional veículo, o magistral poeta
regionalista Telmo de Lima Freitas, concorreu à Califórnia da Canção Nativa do Rio
Grande do Sul (5) onde foi laureado, pela belíssima canção sob o mesmo título, que
encerra com os seguintes versos:
"... O piá que batia garrão no Petiço dizendo verdades sem mesmo saber, unindo na
Pipa gastou muitas horas sem contar o tempo ficando em haver...
... E hoje perdida do rumo das casas Sem sombra, sem teto, deixada ao rigor na beira da
sanga, olhando as estrelas, talvez se desfolhe tal qual uma flor..."
(1) PIÁ - Guri, peãozinho de estância, em serviços caseiros - Romanguera Corrêa.
(2) CACIMBA - "Olho d´água", fonte.
(3) CUSCOS - s.m. Cão de raça pequena, fraldeiro, o mesmo que guaipé ou guaipeca.
(4) GURRIÕES - O mesmo que Pardal, pequeno pássaro da família dos Conirrostros.
(5) CALIFÓRNIA DA CANÇÃO NATIVA DO RS - É uma competição regionalista, de músicas e
canções gaúchas, que se realiza em Uruguaiana.
|
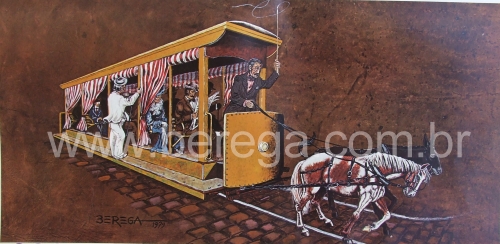 |
Título: Os Bondes Puxados a Cavalo
Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.
Ano / meses: 1980 / novembro-dezembro (publicado, no
calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).
Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)
Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de
Berega.
Entre as muitas coisas que copiamos aos outros
povos, uma delas foram os bondes de tração animal, que constituíam novidade universal,
no fim do século passado.
Obviamente, tivemos de criar o neologismo adequado: "O Carril".
Era o carril, uma barra de ferro forjado ou de aço, sobre a qual deslizavam as rodas de
um veículo, assim de obtendo leveza de tração.
As experiências da siderurgia incipiente determinaram os perfis mais adequados ao emprego
de dois carris paralelos, que dessem melhor circulação aos veículos pesados, que sobre
eles deveriam rodar.Os carris de ferro, primeiro forjados, depois fundidos, consumiam-se
desigualmente, dado as moléculas heterogêneas de que se formavam, com vulnerações
inevitáveis e danosas. Evoluiu-se, então, para as paralelas de aço, com novos perfis
técnicos, permitindo melhor estabilidade ao veículo que ainda não era motorizado.
Os transportes coletivos, que então se estabeleciam para serviço de carris urbanos,
despertaram no vulgo a idéia do instituto de crédito que se formavam, que no direito
inglês se denominava Bond, representado por um documento selado que outra coisa
não era do que ações a que se obrigavam os incorporadores.
Daí que as companhias de bonds ou de bondes e Carris, se identificaram
pelo novo qualificativo, ainda inexistente em nossa língua. Por analogia, mais tarde se
estenderam esses substantivos para designar os carros elétricos ou bondes.
O primeiro bonde que ocorreu sobre trilhos, puxado por cavalos, foi o ano de 1842,
instalado em New York. Era um primitivo modelo com dois pisos. Os passageiros viajavam na
parte superior e no piso inferior, conduziam vários cavalos ou mulas para mudar.
Em Porto Alegre, o governador dr. Júlio Prates de Castilhos, o intendente José Montaury
de Aguiar Leitão e outros políticos inauguraram uma linha de bondes puxados a cavalos,
em um arrabalde da Capital, no ano de 1891. No frontespício da Companhia de Carris, que
era a estação dos bondes, aparece a data de 1873.
Outros veículos de tração animal já teriam surgido e traferam no centro da capital
gaúcha, pois em 1915 havia uma linha Circular de Bonde Elétrico que, passando pela rua
da Praia, subia a praça Alfândega.
|
|